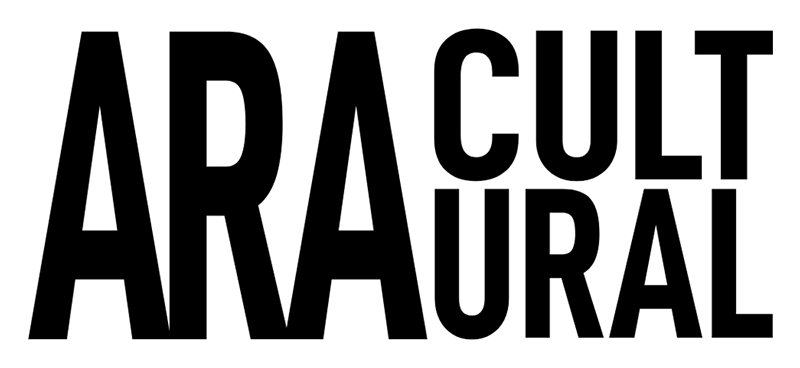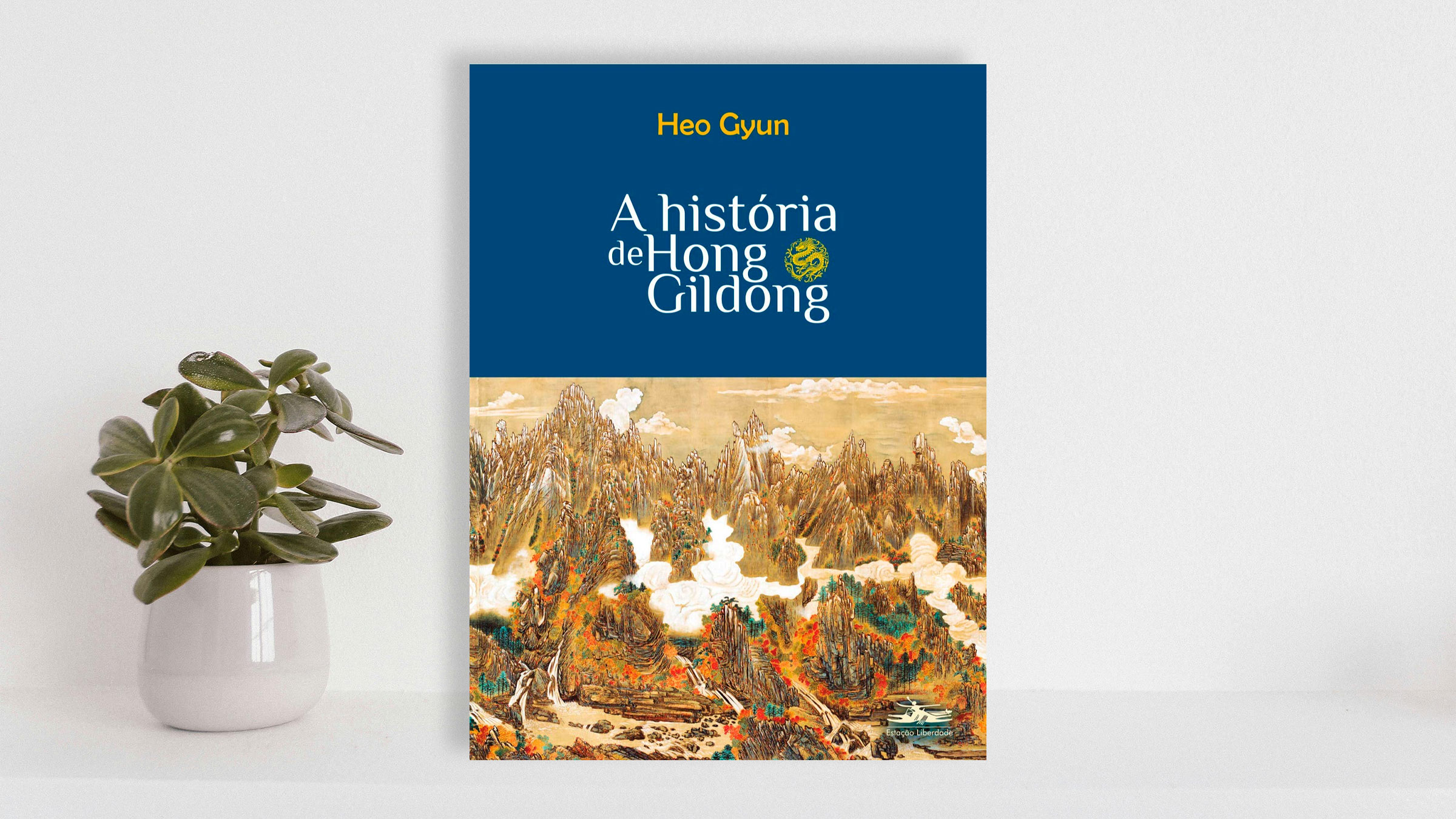por Bruna Giglio e Denise Nobre
Por que falar de literatura coreana?
Essa pode ser uma pergunta vagando pela sua mente agora. Afinal, não há outras literaturas mais proeminentes no mercado brasileiro de livros atualmente? Que lugar ocupa a literatura coreana no contexto literário nacional, tão rico e diverso? É tão válido assim dedicar um texto inteirinho a ela?
Essas são certamente perguntas relevantes para nós também. Elas são, na verdade, nossas perguntas-guia, nossa grande bússola. São elas que nos dão direção rumo ao entendimento da sociedade coreana de hoje e de tempos passados, do espaço da literatura na Coreia e fora dela, e da relação da literatura coreana com esse contexto de mistura de dois povos tão distantes fisicamente, mas cada vez mais próximos culturalmente, que é a fusão Brasil-Coreia. No fim das contas, o que seria literatura senão esse convite ao mergulho nas mais profundas raízes do ser humano, do povo a que pertence, da história que traz consigo e da intersecção dessa com as vozes dos demais? Então, no fundo, estamos todos nós nos questionando a mesma coisa: por que falar de literatura? E, então, por que focar na literatura coreana em particular? Neste texto, nós buscamos trazer uma tentativa singela de esboço de uma resposta.
Para começar a abordar a literatura coreana no Brasil, julgamos ser importante nos localizarmos nessa discussão enquanto Bruna e Denise. Nossa relação com a literatura coreana é antiga e já tem suas raízes bem fincadas, mas foi só após o intercâmbio para a Coreia do Sul em 2022 que ela se solidificou e se concretizou de fato. Antes, consumíamos literatura coreana como brasileiras que somos, traçando no texto a nossa perspectiva e tentando ao máximo não ocidentalizar nossas opiniões sobre os personagens ou o enredo. O fato de estudarmos língua, cultura e literatura coreanas na Universidade de São Paulo (USP), no curso de graduação em Letras Português-Coreano, também contribuía para nosso contato frequente, e fundamentado, com a Coreia. É claro que o intercâmbio não nos transformou em coreanas! Continuamos a ser, e sempre seremos, brasileiras, não-amarelas, lendo livros coreanos. Mas, ao nos conectarmos com a cultura e com o povo coreano, a partir das vivências culturais riquíssimas que tivemos durante o intercâmbio, nós acabamos por desenvolver uma camada extra e mais aprofundada de conhecimento às nossas leituras. É como se um véu fino, porém opaco, que antes cobria nossos olhos estivesse finalmente começando a cair, e nossa visão a respeito do conteúdo dos livros que lemos se tornasse mais clara e menos superficial, porque, evidentemente, passamos a enxergar o povo coreano e toda sua trajetória de uma nova perspectiva. O intercâmbio fez com que inúmeras pecinhas que flutuavam pela nossa mente começassem finalmente a se encaixar e a fazer mais sentido para nós.
Por termos tido essa mudança tão significativa na percepção do legado coreano, e dos diversos elementos nos quais ele é registrado, como a literatura, desenvolvemos um certo desejo entusiástico, que beira quase um desassossego, de repassar tudo o que sentimos a respeito da literatura coreana para os leitores brasileiros. Foi com essa ideia um tanto quanto ousada que criamos o “Sarangbang”, o primeiro podcast exclusivo sobre literatura coreana no Brasil. Nossa proposta é discutir livros escritos por coreanos, e descendentes, que estejam circulando no mercado editorial nacional e ocupando espaços bastante significativos nas prateleiras das livrarias brasileiras, aproveitando, com isso, nossa experiência de intercâmbio e toda a bagagem que viemos acumulando nos anos de aprofundamento da cultura e língua coreanas na faculdade. O desejo que nos move é aproximar a literatura coreana do público brasileiro, tornar a sua leitura mais crítica a respeito da Coreia, tendo sempre a ciência do nosso lugar de fala enquanto pessoas não pertencentes à comunidade, e responder (ou tentar esclarecer) aquelas perguntinhas ali de cima que vagueiam pela nossa mente.
Pensando nisso, nós montamos uma lista bastante simplificada de livros que podem ajudar o leitor de literatura coreana de primeira viagem a se situar na área – ou mesmo servir como uma espécie de compilado de dicas de leitura para aqueles que já são iniciados em literatura coreana mas corajosamente querem dar um mergulho mais fundo nesse mundo (e já deixamos avisado que é um caminho maravilhoso, porém – e felizmente – sem volta). Então, respondendo à pergunta “por onde começar?”, listamos seis obras, escritas por coreanos ou descendentes, que podem auxiliar o leitor na escolha do próximo livro para comprar para si ou para aquele amigo que está precisando se abrir mais para assuntos do mundo e da humanidade (porque todo mundo tem ou conhece alguém assim, não é mesmo?). A literatura coreana também pode servir como um começo de uma cura para esse espécime. Fica a dica!
As obras estão numeradas de um a seis, mas não estão ranqueadas, ou seja, durante a escolha, não depositamos nenhum juízo de valor ou critério avaliativo para definir “a melhor obra coreana” ou “a obra que você deve ler primeiro”. Todas são especiais à sua maneira e revelam uma parte importante da sociedade coreana, que, sim, julgamos ser relevante para o público-leitor brasileiro. Cabe a cada um, então, escolher qual obra ler, ou mesmo usar as seis obras sugeridas para conhecer outras várias disponíveis no mercado. Então, sem mais delongas, vamos à lista!
1. Por favor, cuide da mamãe, de Shin Kyung-Sook
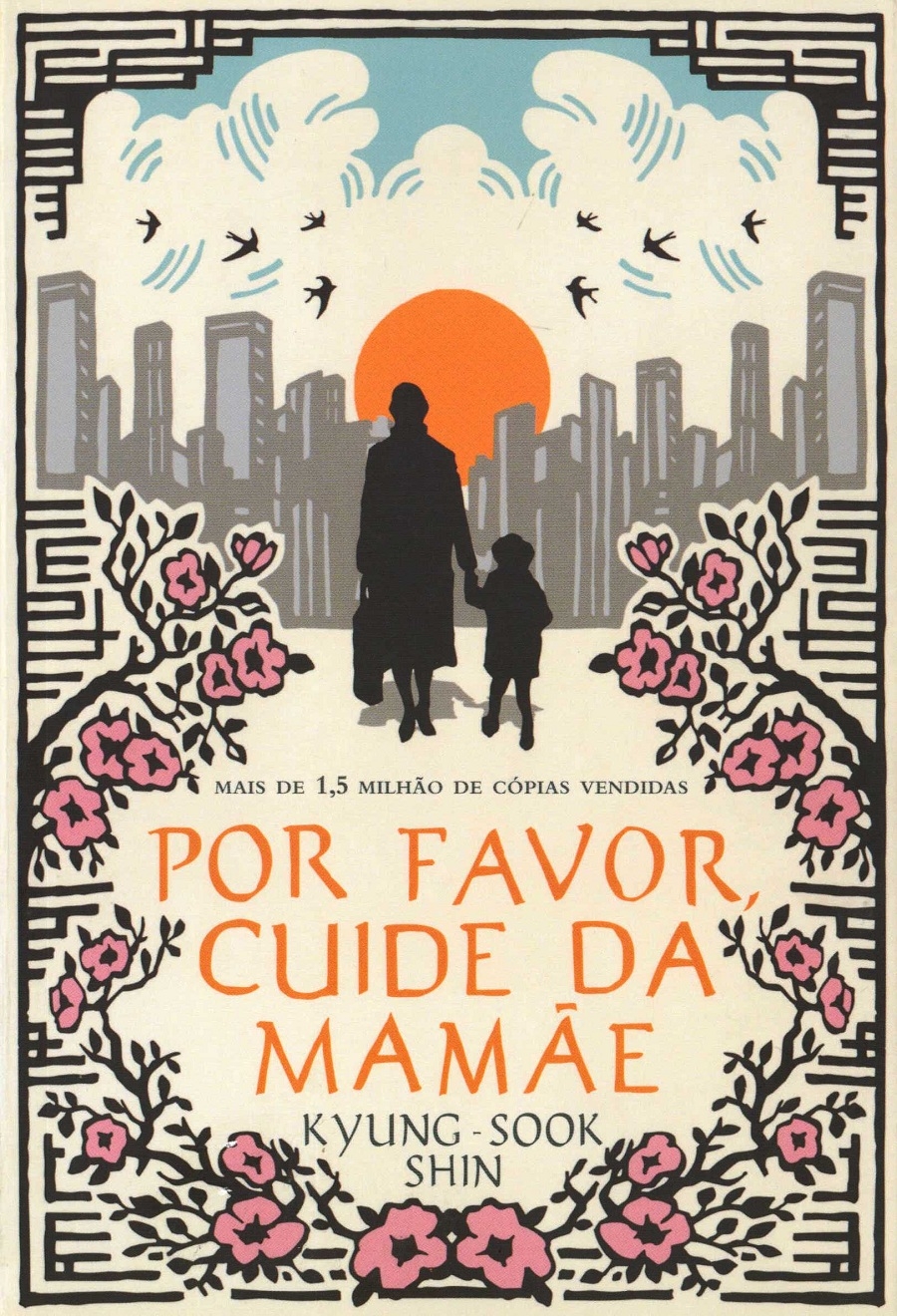
Pungente e cativante, Por favor, cuide da mamãe (엄마를 부탁해) gira em torno de uma temática universal: mães. Afinal, para que todos nós fôssemos presenteados com a vida, foi necessário alguém que nos carregasse no ventre. No entanto, não se engane: esse não é um livro sobre a importância das mães em nossas vidas, tampouco é um livro que arremessa juízos de valor do que é certo ou errado no nosso relacionamento com nossas referências de figuras maternas. Na verdade, Shin Kyung-Sook (신경숙) vai muito além e convida os leitores a livremente questionar a si mesmos e a refletir sobre como estão lidando com as temáticas profundas e bastante íntimas que as páginas desse romance trazem à tona.
O enredo da narrativa é, por si só, instigante. A história começa quando Park So-nyo, mãe de cinco filhos, separa-se do seu marido, que tem o costume de andar sempre a sua frente, e acaba desaparecendo em uma movimentada estação de metrô em Seul. O marido embarca no trem para a próxima estação e ela, não. O que é, à primeira vista, um acontecimento bobo culmina em preocupação, mobilização, desespero, negação e sucessiva aceitação dos filhos e marido. O livro é dividido em quatro capítulos e um epílogo, cada um narrado pela perspectiva de um personagem diferente da família. Essa estratégia de narração, além de enriquecedora, convida o leitor a montar um quebra-cabeça e desvendar, junto com os entes da família, a personalidade da mãe desaparecida. Durante várias passagens do livro, há também flashbacks de momentos cotidianos e aparentemente banais, mas que, muitas das vezes, revelam facetas da mãe que os próprios filhos só passam a perceber após seu sumiço.
Além disso, o estilo de narrar optado pela autora é único e se encaixa perfeitamente à narrativa. Em vez de usar a terceira pessoa do singular – “ele” ou “ela” – ou a primeira do singular – “eu” -, como é mais convencional nos livros de ficção, Shin Kyung-Sook escolhe o “você” em muitas partes do texto, tirando-nos da posição confortável de leitores e nos puxando para dentro da história a ponto de sentirmos como que personagens dela. Esse fenômeno de reposicionamento tão peculiar à narrativa culmina nos vários questionamentos desagradáveis que ficam pendentes na nossa mente durante, e após, a leitura e no sentimento de culpa, remorso e amargor que nos perpassa ao nos projetarmos nas situações descritas pelos personagens.
A temática universal também está presente nas críticas sutis, porém certeiras – traço que se mostra bastante frequente na literatura coreana – à sociedade contemporânea em que a vida agitada, repleta de afazeres, horários e compromissos, restringe os intervalos para lazer, família e amigos e, quando vamos ver, o envelhecimento bate à porta e percebemos que já é tarde demais.
Shin Kyung-Sook meticulosa, ardilosa e cautelosamente vai abrindo em nós fendas, cicatrizes, e nos instigando a, de forma nada agradável, revisitar os nossos pensamentos e medos mais íntimos com relação às figuras amadas que estão à nossa volta e que estão vulneráveis, assim como todas as demais pessoas, a desaparecer um dia. A leitura nos faz refletir sobre a brevidade da vida, sobre gestos de amor que não reconhecemos quando recebemos e sobre arrependimento quando o tempo já se esvaiu por completo. A recomendação da leitura vai para todos que tenham a coragem de se questionar, de mergulhar em si mesmos, e de, muito provavelmente, fechar um livro com uma inquietação lancinante, porém bastante memorável.
2. Flor Negra, de Kim Young-ha
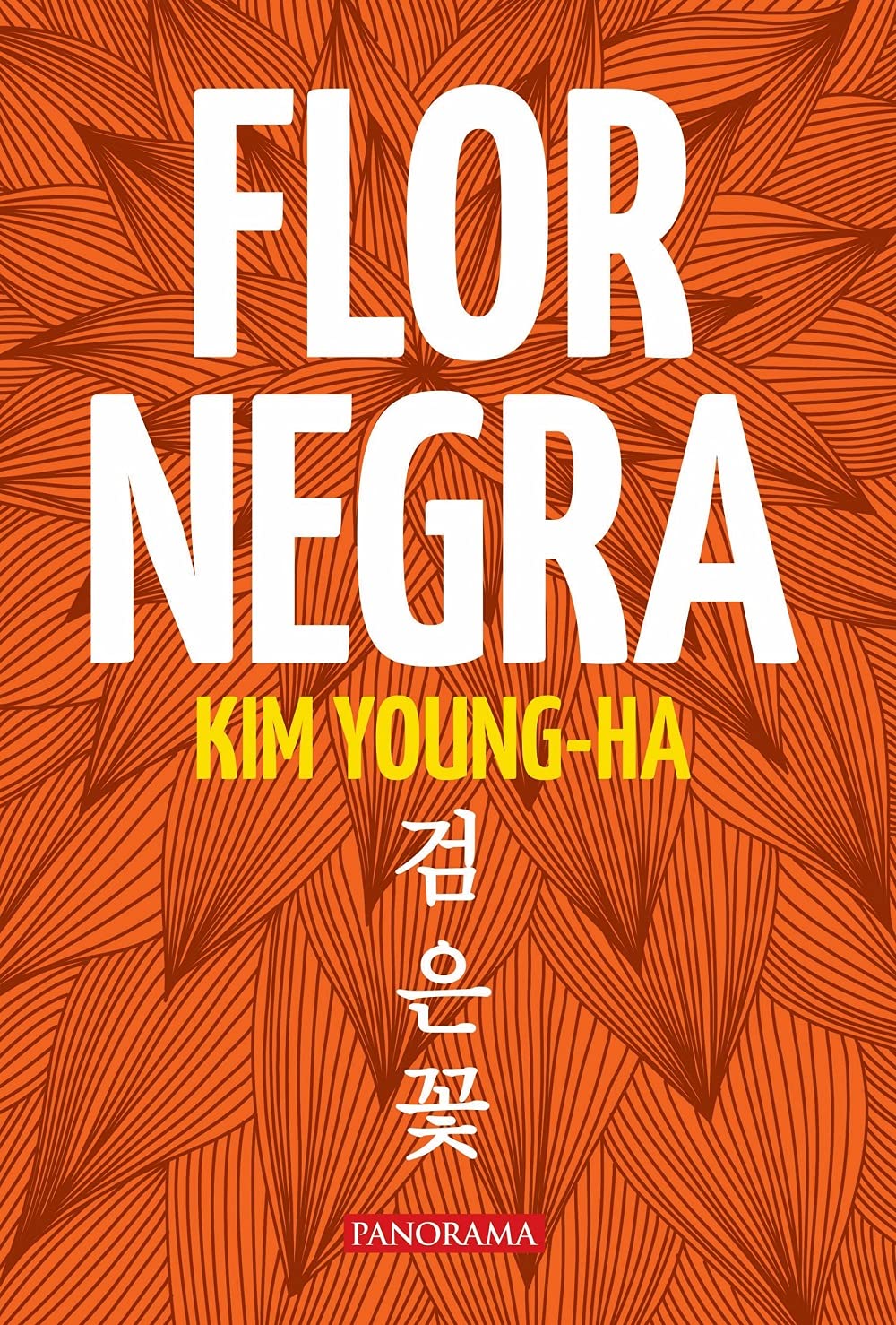
Saindo do tema universal em torno da figura materna, que tal entrarmos em um tema mais particular da península coreana? É com esse propósito que indicamos a leitura de Flor Negra (검은 꽃), livro publicado em 2013 pela editora Geração. Através do romance de Kim Young-ha (김영하), premiado autor coreano nascido em 1968, podemos conhecer um pouco da história de uma Coreia ainda unificada, os costumes do povo coreano e os sofrimentos que enfrentavam aqueles que viviam no período conturbado entre o final da dinastia Joseon e a invasão japonesa. Em consequência dessas transformações, a península foi assolada pela fome e pela pobreza, o que levou mil e trinta e três pessoas a migrarem para o México. É nesse capítulo pouco conhecido da história coreana que o autor se baseou para escrever um livro que versa sobre a busca pela sobrevivência e ascensão social em terras inóspitas.
Os coreanos que fugiram da degradação de sua nação rumo às terras longínquas partiram com tristeza e lágrimas nos olhos, mas com a esperança de um dia retornar para a terra natal em glória. A viagem de navio até o outro lado do mundo foi o início das desventuras. No navio, todos precisavam se apertar uns contra os outros, pois a lotação era maior que a capacidade do contingente de pessoas originalmente pensado pela Companhia de Colonização Continental, que os havia convencido a embarcar. A eles foi prometido que no México não faltaria trabalho, dinheiro e comida quente. Entretanto, ao chegarem ao destino, os coreanos foram encerrados em fazendas de sisal e forçados a trabalhos praticamente escravos, já que os pagamentos não eram justos e a comida não era fornecida pelos fazendeiros que os “contrataram”. Nos anos que se seguiram, a exploração e a aculturação forçada pelos fazendeiros foi duramente resistida pelos coreanos.
Essa certamente é uma história de dor, saudade e resiliência. Aliás, em geral, as histórias de imigração o são. Então, o que torna a leitura desse livro tão especial para aqueles que querem entender melhor o povo coreano, e principalmente os imigrantes e descendentes? É claro que, se pensarmos cronologicamente, as duas histórias se distanciam por mais de cinquenta anos, visto que os coreanos começaram a chegar no Brasil em 1956, segundo artigo da professora Choi (1996), o que serviria como um possível contraponto para a ideia de ligação entre as histórias de imigração para esses dois países da América. No entanto, o que o livro nos mostra é menos a apresentação de aspectos particulares da imigração coreana para o México e mais o choque cultural e ideológico sofrido pelos coreanos que deixaram sua terra para construir uma vida nova em um país tão diferente. A narrativa de Flor Negra não é focada na imigração coreana para o México, e sim na transição dolorosa dos ideais confucionistas – legado ideológico e social que rege o comportamento dos coreanos até os dias de hoje – para os ideais ocidentais, e a luta dos imigrantes coreanos para se moldar nesse novo contexto tão adverso e solitário. É esse aspecto que universaliza a história de imigração coreana, e possibilita associarmos a narrativa dos mil e trinta e três coreanos que atracaram no México naquela época com o passado igualmente de luta e superação dos imigrantes coreanos que vêm para o Brasil desde 1956.
Nas palavras do próprio autor, o romance recebeu esse nome, porque “o preto é uma cor criada pela combinação de todas as outras cores” (p. 310), de modo que sua presença enfatize a miscelânea de questões afloradas em um processo de imigração. Ao desembarcar em outro país, o imigrante entra em contato com “outros mundos” — clima, língua, cultura, normas, e etc — que conflituam com suas convicções prévias de religião, raça, condição social e gênero. No decorrer da adaptação dos imigrantes coreanos no Brasil, assim como o emaranhado de temas sociais representado no livro, essa mistura com a cultura brasileira também está presente. Sendo assim, vale muito a pena a leitura da obra para um enriquecimento a respeito da cultura, história e comportamento social dos coreanos e descendentes. Certamente após a leitura muitas questões surgidas no convívio diário com a comunidade coreana serão melhor compreendidas.
3. Pachinko, de Min Jin Lee
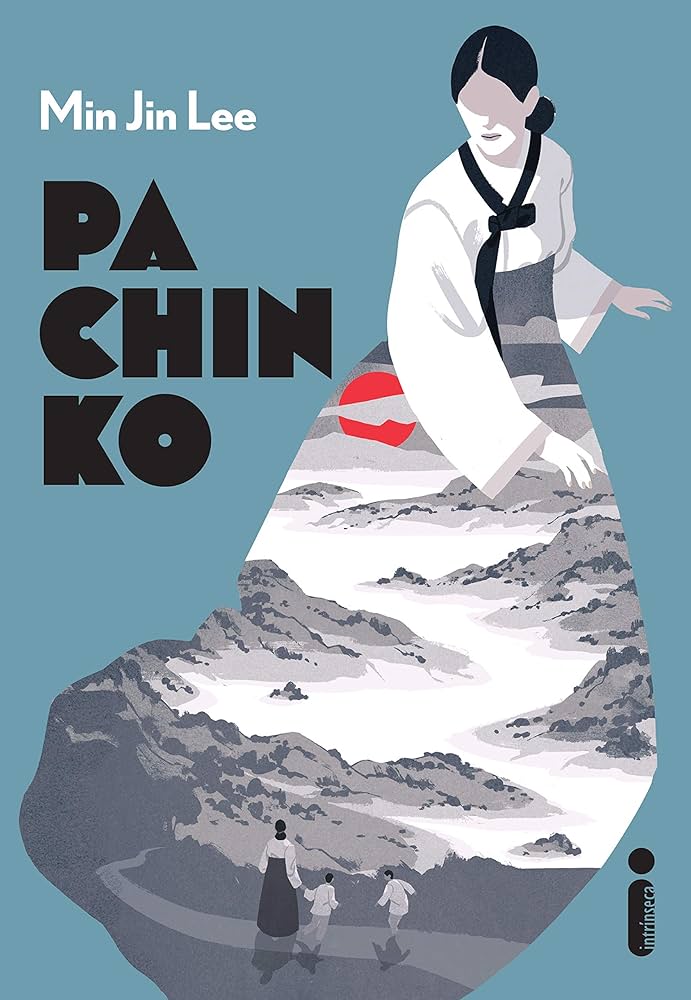
Seguindo com mais uma sugestão de obra que permeia o tema da imigração e os sentimentos e conflitos enfrentados pela diáspora coreana e suas descendências, outra leitura altamente recomendada é o livro Pachinko. O best-seller do New York Times, publicado no Brasil em 2017, é de autoria da coreana-americana Min Jin Lee (이민진), escritora e jornalista baseada em Nova York, e narra a dolorosa trajetória de três gerações de uma família de imigrantes coreanos no Japão. Para os aficionados pelas novelas coreanas, os famosos K-dramas, talvez esse título já seja conhecido. Porém, não se confunda! A série de drama televisivo baseada na obra de Min Jin Lee, e disponível na plataforma Apple TV+, é uma produção americana que tem no enredo algumas passagens adicionadas que não fazem parte da obra original. Para quem prefere assistir em vez de ler, recomendamos dar uma chance à série, mas saiba que estará perdendo uma grande oportunidade de mergulhar na história de alguns personagens que foram excluídos ou pouco explorados na primeira temporada da série. Além disso, a questão da sexualidade dos personagens, que é bastante recorrente e importante no livro, foi ignorada na adaptação televisiva, o que distancia ainda mais a série do livro.
A obra ficcional é contextualizada, inicialmente, no período em que o Japão invadiu a Coreia e tornou o país sua colônia, mas a narrativa acompanha a família por quase 100 anos. No início da década de 1930, a personagem-principal Sunja, jovem filha dos donos de uma pensão, conhece o novo negociante do mercado de peixe, Hansu, e se apaixona perdidamente por ele. O romance às escondidas resulta em uma gestação. Entretanto, o que Sunja não sabia era que seu amado já era casado e a única coisa que ele pode oferecer para ela é uma vida luxuosa, porém marginalizada. Ela, então, recusa a oferta de Hansu e, como forma de não envergonhar sua mãe, aceita o pedido de casamento de um pastor forasteiro, Isak, que ambas mãe e filha acolheram e cuidaram na pensão quando ele estava doente. Com o marido, Sunja migra para o Japão carregando seu primeiro filho no ventre.
É a partir de 1933, em Osaka, que Sunja se torna uma imigrante coreana, e esse rótulo trará para ela e seus descendentes um fardo pesado de se carregar. Pachinko, nome dado ao jogo da máquina de caça-níqueis presente em todo o Japão, foi o único destino possível para ganhar dinheiro e sobreviver em terras onde ela e sua família não eram bem-vindas. À sombra do estigma de foras da lei, mafiosos, sujos e demais insultos, a saga da família é uma trama sobre discriminação, nostalgia da pátria, falta de pertencimento e conflitos identitários.
Em qualquer parte do mundo, em que os coreanos imigrantes foram fincar raízes e iniciar uma nova vida, o preconceito marca presença constante nas relações cotidianas. Ele certamente está sempre à espreita, mas varia de grau, a depender do país. Ao conversar com coreanos e descendentes no Bom Retiro, ou em outros cantos do Brasil e do mundo, o compartilhamento de traumas da infância e da adolescência é evidente. Eles ecoam: no receio de levar amigos em casa, por conta da cozinha que, para os não-coreanos, “fede” por causa do kimchi; na consequente vontade de ser mais brasileiro, japonês, americano, etc, para ser igual aos colegas de classe na escola; e no distanciamento e subsequente negação das origens e na rebeldia contra tudo que remete à cultura de seus ancestrais. Todas essas feridas certamente são identificadas nas palavras escritas por Min Jin Lee.
Apesar da tragédia e da crueldade da humanidade, a obra também revela a coragem e a resiliência dos imigrantes coreanos, principalmente das mulheres, e esse é outro ponto em comum com a história da imigração coreana no Brasil. Sunja, sua mãe e sua cunhada se sustentam como vendedoras ambulantes no Japão até conseguirem abrir a própria loja, mas outros motivos também dão a elas forças para continuar, como notamos no trecho: “Ela [Sunja] dividia os lucros igualmente com Kyunghee e guardava todos os senes que podia para pagar pelos estudos dos meninos e pelas passagens para a Coreia, caso tivessem que voltar para casa.” (p. 183, grifo nosso). De forma semelhante, os coreanos se estabeleceram no Brasil fazendo “bendê”, que, na maneira ainda não familiarizada com a língua portuguesa, era como chamavam a profissão de vendedor ambulante. No entanto, em terras brasileiras, as vendas se configuraram mais em produtos manufaturados que trouxeram da Coreia quando vieram e logo mudaram para a confecção, tornando os lucros maiores e proporcionando a base financeira para que os pais pudessem realizar o sonho de oferecer educação aos filhos.
É preciso também estar ciente que essa é uma obra que traz diversos gatilhos emocionais, principalmente para os coreanos e descendentes, já que as feridas do período colonial fazem parte de um passado bastante recente. Para os mais sensíveis ao tema, recomendamos uma leitura com pausas para digerir as agressões e, se possível, intercalar com alguma outra leitura mais leve, porque, de toda forma, é uma obra importantíssima para se entender melhor o passado de imigração coreana e colonização japonesa.
4. Aos Prantos no Mercado, de Michelle Zauner
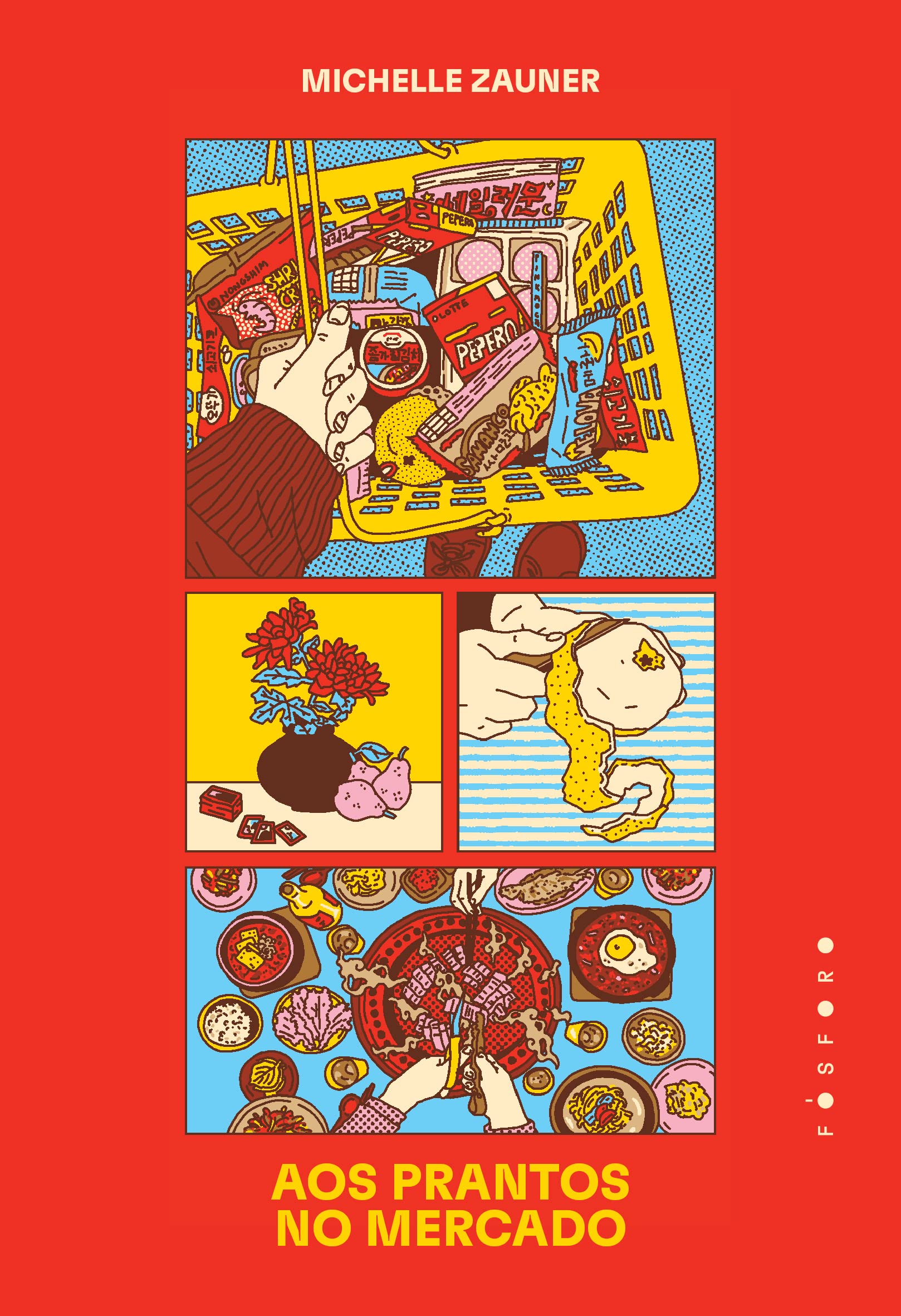
Michelle Zauner nos apresenta, em sua obra de estreia, uma narrativa visceral de suas memórias desencadeadas pelo pranto em meio aos corredores de um mercado asiático nos Estados Unidos. Por que ela chora? Sua mãe faleceu aos 54 anos, vítima do câncer, cedo demais para a jovem Michelle ter se reconciliado com seu passado e origens. A autora bi-racial, filha de mãe coreana e pai americano, nasceu em Seul, mas migrou com a família para o estado do Oregon, EUA, quando tinha apenas um ano de idade.
Após a morte da mãe, Zauner, que também é cantora em uma banda de rock, alcançou sucesso na música com suas composições que foram uma espécie de catarse do arrependimento dos erros que o tempo não permitiu consertar. Ela se questionava se havia demonstrado sua compaixão filial, se havia conseguido, de algum modo, nos meses em que acompanhou a mãe definhando por conta da doença, redimir-se de todos os anos da relação conflitante entre ambas. Pouco depois, em 2021, em consonância com o luto, publicou o livro Aos Prantos no Mercado (Crying in H Market). Por que o mercado asiático é um gatilho? Porque a relação com a comida coreana parecia ser o único elo que unia mãe e filha.
A relação afetiva que temos com a comida é um sentimento universal. Os aromas, os sabores, os sons emitidos pelos utensílios, tudo na cozinha tem o poder de evocar em nós memórias intrínsecas desde a nossa idade mais tenra. Por isso, a afetividade com a comida está diretamente relacionada aos afetos estabelecidos nas relações familiares. Porém, para Michelle, a relação com a comida coreana representa mais ainda que isso. Era à mesa que a mãe a elogiava. Era na hora da refeição que ela recebia a validação que tanto procurava. Era apreciando a comida coreana que Michelle tinha a sensação de pertencimento, afinal a mãe sempre dizia ao ver a filha se deliciando com a refeição: “É assim que sei que você é uma coreana de verdade” (p. 38).
Novamente, essa é mais uma obra literária que retoma os fantasmas que rodeiam os imigrantes, como a ausência da pátria, o sofrimento por não se sentir representado em meio a pessoas totalmente diferentes e a eterna sensação de não se encaixar em lugar nenhum. Para a autora, é no mercado asiático que ela sente que faz parte do povo coreano, mas “ninguém fala sobre isso. Não há nem uma troca de olhares de cumplicidade. Todo mundo fica lá sentado em silêncio, saboreando o almoço. Mas eu sei que estamos todos aqui pelo mesmo motivo. Estamos todos em busca de um pedacinho do nosso lar, de um pedacinho de nós mesmos” (p. 17).
Nessa obra, acompanhamos os conflitos de identidade a partir da ótica de uma mulher jovem, idade que se aproxima da terceira ou quarta geração dos imigrantes coreanos e descendentes no Brasil. Apesar das diferenças entre a realidade brasileira e americana, a narrativa traz situações ocorridas num passado ainda mais recente que nos dois livros citados anteriormente, acontecimentos dos últimos quarenta anos, que dialogam com os desafios também enfrentados por muitos imigrantes e descendentes que vivem em solo brasileiro.
Além disso, a própria autora, mesmo fazendo parte da comunidade coreana da diáspora, desconhecia aspectos da cultura coreana, o que a fazia criticar certos comportamentos da mãe. Por isso a implicância com a mãe, o desejo de se tornar parte da sociedade americana, a rebeldia contra os conselhos maternos e a vontade de apagar sua origem coreana. Só após a perda é que ela faz uma investigação em retrospecto da vida da mãe e acaba descobrindo explicações para determinadas atitudes que remetem às diferenças culturais pelas quais ela passava. A partir dessa revelação, fica evidente para nós, mais uma vez, como, através da literatura, somos contempladas com insights jamais possíveis “sem calçar os sapatos dos outros”. A nós é permitido vislumbrar realidades distintas que, como não-coreanas ou descendentes, nunca poderíamos alcançar sem o poder das narrativas. Surpreendentemente, ou não, esse redescobrimento do ser humano por trás da figura materna também apareceu na obra Por favor, cuide da mamãe, citada anteriormente.
O livro de Zauner traz, ainda, diversos aspectos da cultura coreana moderna, como a explosão em popularidade dos cosméticos coreanos como produtos de destaque no mercado estético mundial. Há várias referências a pontos turísticos e atividades imperdíveis de se fazer em uma viagem à Coreia do Sul. É possível perceber na narrativa também os impactos da Hallyu — onda coreana de exportação cultural através de produtos culturais e entretenimento, como o K-pop e K-drama — na transformação da Coreia do Sul de um país pobre para um modelo de sucesso econômico e no consequente declínio da visão negativa dos coreanos e imigrantes, por parte dos ocidentais, para dar lugar à admiração.
A obra, que celebra os afetos evocados pela comida coreana, é um deleite para os apaixonados por descrições minuciosas de pratos, preparo das refeições e etiqueta à mesa. Recomendamos anotar os nomes dos pratos e experimentá-los em um dos maravilhosos restaurantes coreanos do Bom Retiro, que trazem para o Brasil o sabor especial da culinária coreana.
5. Jun, de Keum Suk Gendry-Kim
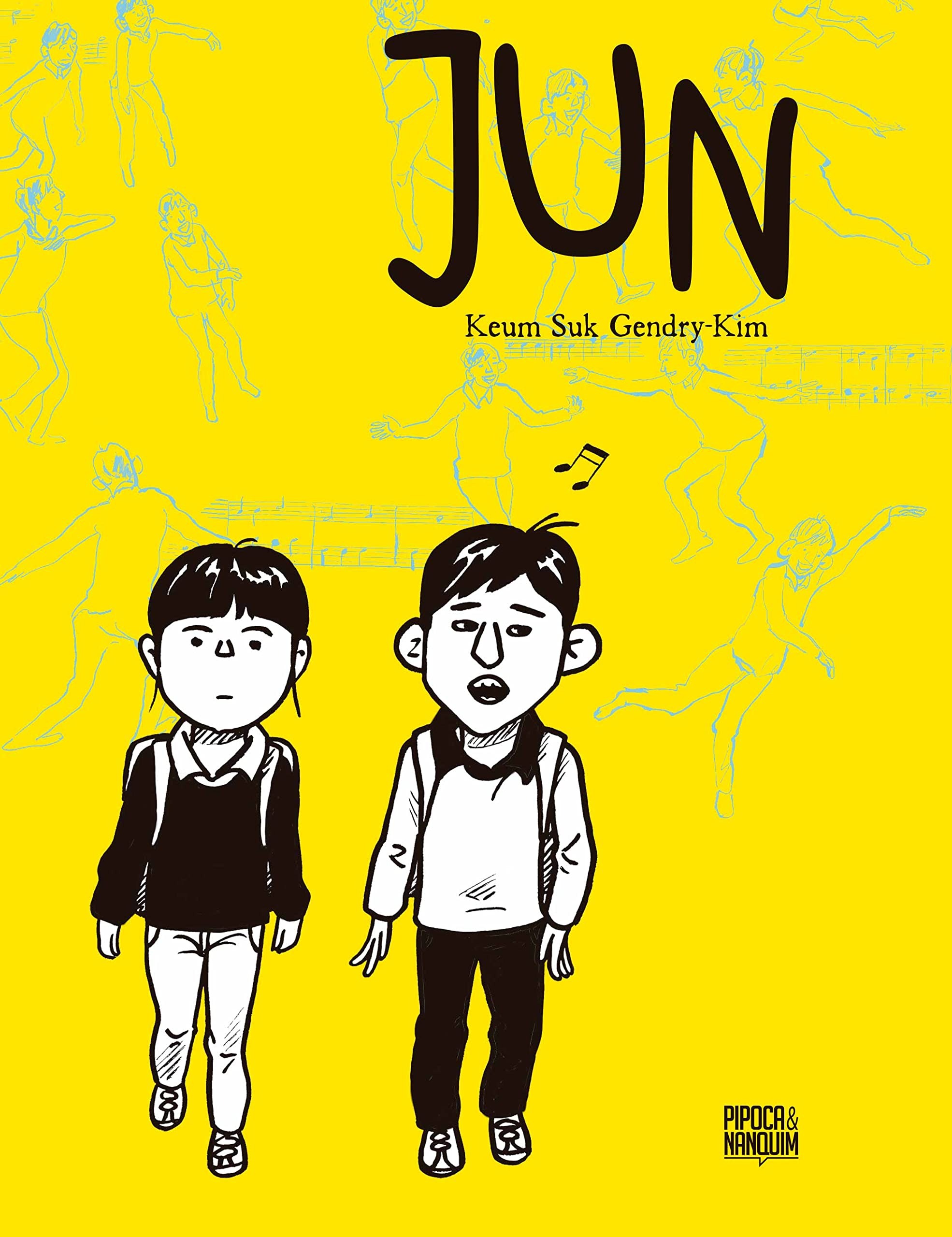
Terceira graphic novel de Keum Suk Gendry-Kim (김금숙) traduzida para o português, Jun (준이 오빠) trata de um assunto que não é restrito à Coreia do Sul: as dificuldades enfrentadas pelas pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista e pelas suas famílias, que, como no caso da família presente na narrativa em questão, acompanham de perto esses desafios. Jun é inspirado na vida real de Jun Choi, um jovem autista coreano que encontrou no 판소리 (pansori), gênero folclórico coreano, uma forma de se relacionar com o mundo.
A história é contada da perspectiva da irmã mais nova de Jun, Yun-seon, que narra desde os primeiros anos de vida dos irmãos até a fase adulta. Jun é descrito como uma criança de coração enorme que desde muito cedo desenvolve uma audição aguçadíssima e reconhece como música os sons que os demais consideram banais e imperceptíveis, como o som do vento, da chegada do metrô e do ventilador. Só não havia passado pela cabeça da família que toda aquela atenção dada aos mais simplórios sons e os batuques constantes que Jun empreendia poderiam ser, de fato, o indício do talento dele. Quando Jun fica mais velho e ainda não consegue emitir palavras e se comunicar, seus pais, depois de diversas tentativas falhas, decidem colocá-lo na aula de música tradicional coreana, 국악 (gugak), seguindo o conselho da professora de educação especial. É durante as aulas de pansori que Jun começa a emitir as suas primeiras palavras e, logo, a dizer frases completas. Não demora muito para ele se destacar nas apresentações, competindo de igual para igual com as crianças neurotípicas, e se tornar um prodígio no pansori, esse que é um gênero de música folclórica coreana de forte tradição cultural, com um canto estilizado e muito expressivo e repertório de narrativas e gestos bastante reconhecidos pelos coreanos. Como Yun-seon mesmo pontua: “durante as apresentações, não passava pela cabeça de ninguém que meu irmão é uma pessoa com autismo. Eram horas em que meu irmão existia no mundo tão somente como cantor. Não como uma pessoa com deficiência” (p. 130).
A graphic novel também levanta diversas reflexões quando retrata, por exemplo, o preconceito das pessoas a respeito dos traços de “anormalidade” nos comportamentos de Jun, os comentários excludentes e desrespeitosos tecidos pelas autoridades escolares, que deveriam acolher as diferenças em prol da educação, o capacitismo, que refere-se à discriminição às pessoas portadoras de alguma neurodivergência, e a mistura complexa de pena e medo que leva os pais de Jun a monitorar todos os passos do filho e a duvidar de suas capacidades, o que nos faz questionar se os pais estão de fato ajudando o filho ou atrapalhando seu crescimento. Sobre esse último ponto, ao contrário dos pais, Yun-seon, que abdica de muitas experiências por conta do irmão, como ficar até mais tarde fora de casa com os amigos e cogitar se casar, é a primeira a notar as competências do irmão e a não duvidar do seu potencial, incentivando-o a se virar sozinho quando isso está ao seu alcance.
Embora trate do tema universal da luta das famílias contra os preconceitos com pessoas neuroatípicas, Jun traz um elemento bastante coreano, que vem a ser o grande destaque do jovem musicista e compositor Jun e o meio pelo qual ele se comunica com o mundo: o pansori. Ao ler Jun, nós nos aproximamos de uma camada bastante enraizada nos costumes do povo coreano: a cultura da canção, da performance e da comunicação por meio da música. Afinal, é por meio do pansori que Jun se constitui enquanto ser humano e dialoga com os demais, quebrando as diversas barreiras discriminatórias e mostrando que a arte é o espaço certo para a diversidade e a inclusão.
6. As coisas que você só vê quando desacelera, de Haemin Sunim
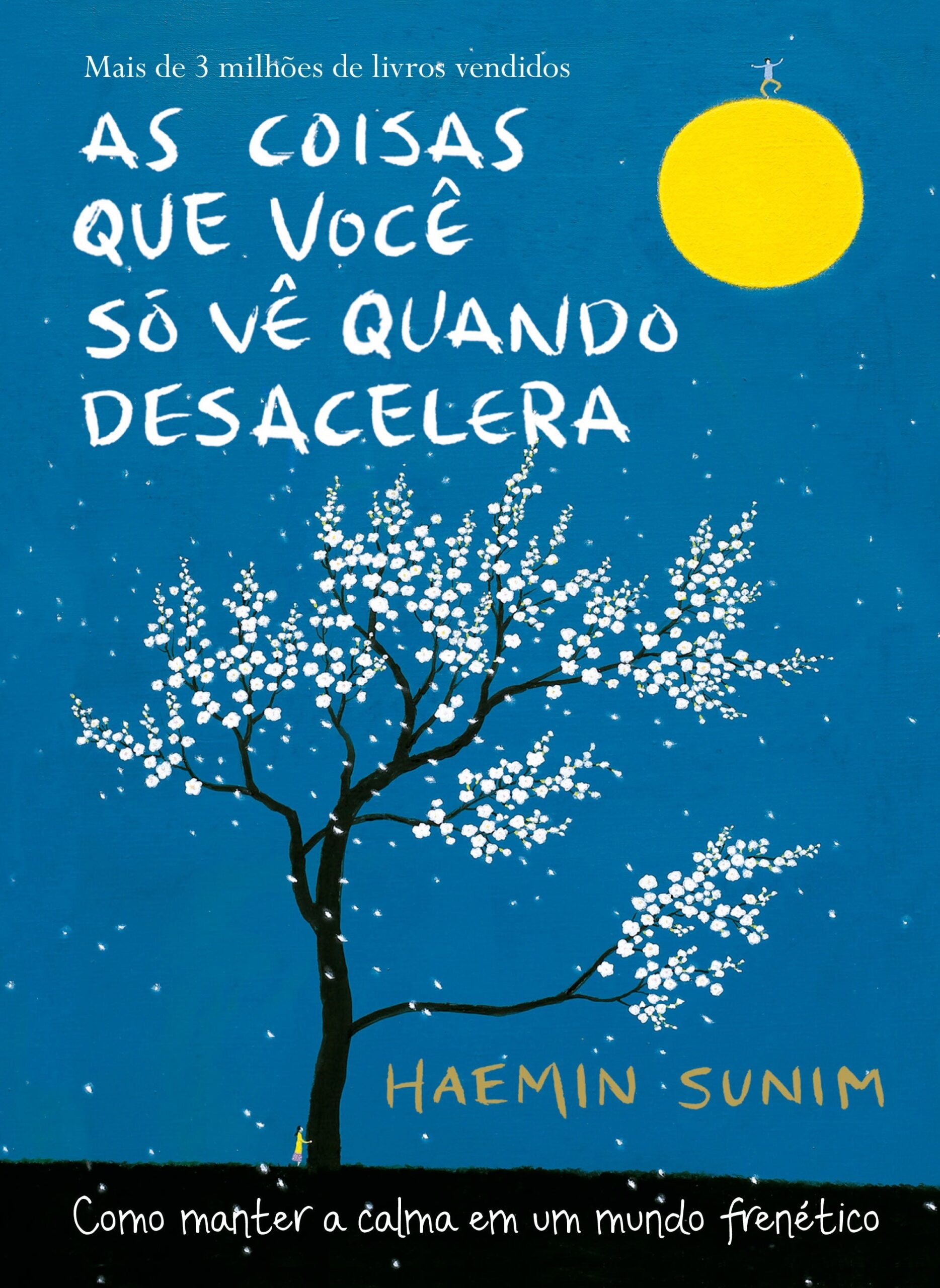
Em meio a uma sociedade reconhecida pelo estrondoso e surpreendente avanço econômico e tecnológico, pelos milhares de outdoors espalhados pelos prédios que compõem uma paisagem urbana única e o fluxo incessante de pessoas nas ruas, é aparentemente inusitado imaginar o surgimento de um livro sul-coreano que propusesse uma pausa consciente, um respiro profundo, e que fizesse tanto sucesso nacionalmente a ponto de se tornar conhecido fora da Coreia. No entanto, essa aparente contradição é bastante razoável, afinal, são as pessoas inseridas nesse mundo tão agitado, impessoal e conturbado que mais clamam por um refúgio, por um momento de olhar para si mesmas e, devagar, entender quem são e do que precisam.
O monge zen-budista e ex-professor universitário Haemin Sunim (혜민스님), depois de ver o fenômeno das suas reflexões postadas nas redes sociais e o quanto elas ajudaram milhares de pessoas, publicou As coisas que você só vê quando desacelera (멈추면, 비로소 보이는 것들) em 2012 com uma proposta ousada: convidar os leitores à meditação e reflexão em meio à agitação caótica e alucinante da sociedade coreana contemporânea, realidade essa não muito diferente daquela enfrentada pelas pessoas que vivem – ou sobrevivem – em outros centros urbanos espalhados pelo mundo, como São Paulo.
O livro é dividido em oito capítulos que abrangem temas bastante variados, indo desde relacionamentos e amizades a trabalho, aspirações, inseguranças e espiritualidade. O autor introduz cada capítulo com um texto inspirador, em que conta relatos da sua vida pessoal, dá conselhos e traz o convite para as reflexões que virão no capítulo. Em seguida, é compartilhada uma série de mensagens curtas, porém bastante valiosas, a respeito do tema em questão, mensagens essas que servem como “pílulas de calma”. Elas são um convite ao refúgio em meio a todo o caos que circunda o leitor, um chamado para o mergulho imersivo em si mesmo.
Haemin Sunim enfatiza a importância do exercício da atenção plena, também conhecido como mindfulness, que nada mais é que o estado mental em que a atenção é direcionada única e exclusivamente para o presente, permitindo que outros pensamentos venham e vão, mas não abalem a concentração na respiração que está sendo realizada. A proposta do livro é trazer esses minutos de atenção plena durante a leitura, como que provocando esses momentos de completude e presença no leitor. As ilustrações delicadas feitas por Youngcheol Lee recheiam o livro de beleza e também contribuem para a construção desse exercício mental.
As coisas que você só vê quando desacelera é a pura manifestação da urgência atual pela calma, pela desaceleração, em meio aos gritos das pessoas por amparo. É como uma flor perfumada que cresce desajeitada, porém firme, em meio ao frio e duro asfalto. É um convite ao reencontro consigo mesmo. É o respiro depois de uma longa corrida, que, para muitos, parece não ter fim. É uma dose sutil e poderosa de autocuidado oferecida às pessoas que estão dispostas a levar a picada. Por isso, essa é uma leitura essencial a basicamente todo ser humano, afinal, quem não precisa de um momento dedicado ao olhar para dentro?
Mas, esse é o fim?
Pelo contrário, é apenas o começo! A lista acima é um pontapé inicial, um aperitivo, do que você, leitor, pode encontrar ao se debruçar sobre a literatura coreana. Sinta-se livre para usar essa lista de guia ou mesmo de inspiração para outras buscas. Nosso maior intuito foi apresentar a literatura coreana, e cabe a você analisar o melhor livro ou gênero que se encaixa no seu perfil.
Foi bastante doloroso selecionar apenas seis obras dentre a gama enorme de livros coreanos que estão espalhados pelas livrarias brasileiras. Pois, acredite, a lista de obras é extensa e está crescendo cada vez mais. Segundo um levantamento que realizamos, circulam no mercado brasileiro quase 300 obras de autores coreanos e descendentes, e os gêneros são bem diversos, abrangendo romances fictícios, ensaios críticos, livros infantis e infantojuvenis, graphic novels e manhwas (as histórias em quadrinhos coreanas). O mercado está sendo bastante atrativo, e a todo momento recebemos novidades de mais e mais livros entrando em pré-venda (os dados a respeito da quantidade de obras coreanas circulando no Brasil estão reunidos na aba “Banco de Obras Coreanas”). Esse cenário não deixa de ser surpreendente, tendo em vista a distância cultural e física entre os dois países e o escasso número de tradutores do coreano para o português.
Mas, então, por que falar de literatura coreana? Esperamos que o leitor, depois de ler as curtas resenhas que trouxemos, possa ter captado pelo menos um detalhe comum a todas elas: a sua universalidade temática. Porque sim, todos os livros, por mais diversos que sejam seus temas, abordam, nas suas proporções particulares, assuntos que dialogam com todos os seres humanos. Todas as obras mostram que a Coreia nem é tão distante assim do Brasil e que os coreanos estão discutindo temáticas relevantes até para nós, brasileiros, mesmo que estejamos separados por 12 horas de fuso horário e mais de trinta horas de viagem de avião.
Contudo, a literatura coreana tem um quê especial e particular que a difere das demais. Ela é crítica e pungente, ao mesmo tempo em que é sutil e delicada. Ela dá um soco no estômago do leitor e, junto, faz-lhe um cafuné. Claro que esse duplo varia em cada obra. Algumas obras dão mais socos do que cafunés e nos destroem por completo, enquanto outras disfarçam no cafuné um soco violento, e nos iludimos com o aparente sossego. Porém, todas elas carregam esse traço marcante de equilibrar a crueza com a brandura da vida e dos seus fenômenos. É um balé magnífico e único que, na nossa opinião, transforma os leitores por completo. Nós não fechamos um livro de literatura coreana da mesma forma de quando o abrimos, ou sem um pingo de incômodo ou de inquietação interna. Essa agulhadinha, às vezes mais profunda e dolorosa, às vezes mais sutil e passageira, é, para nós, a essência mais pura da literatura coreana.
Talvez você esteja agora se questionando por que alguém, em sã consciência, se aventuraria a experimentar tamanha ameaça à sanidade mental. Mas, convenhamos, o que seria a literatura senão essa eterna e incansável busca por aventurar-se em outros mundos e em outras vivências por meio das palavras? O que seria dela sem esse desejo inexplicavelmente contagiante e viciante de viver o desconhecido? A literatura coreana está apenas cumprindo seu papel e segurando a porta para nós entrarmos e enxergarmos o mundo por lentes novas, por perspectivas que talvez não teríamos se não nos sujeitássemos ao imprevisível. Bom, nós estamos entrando. Você vem?